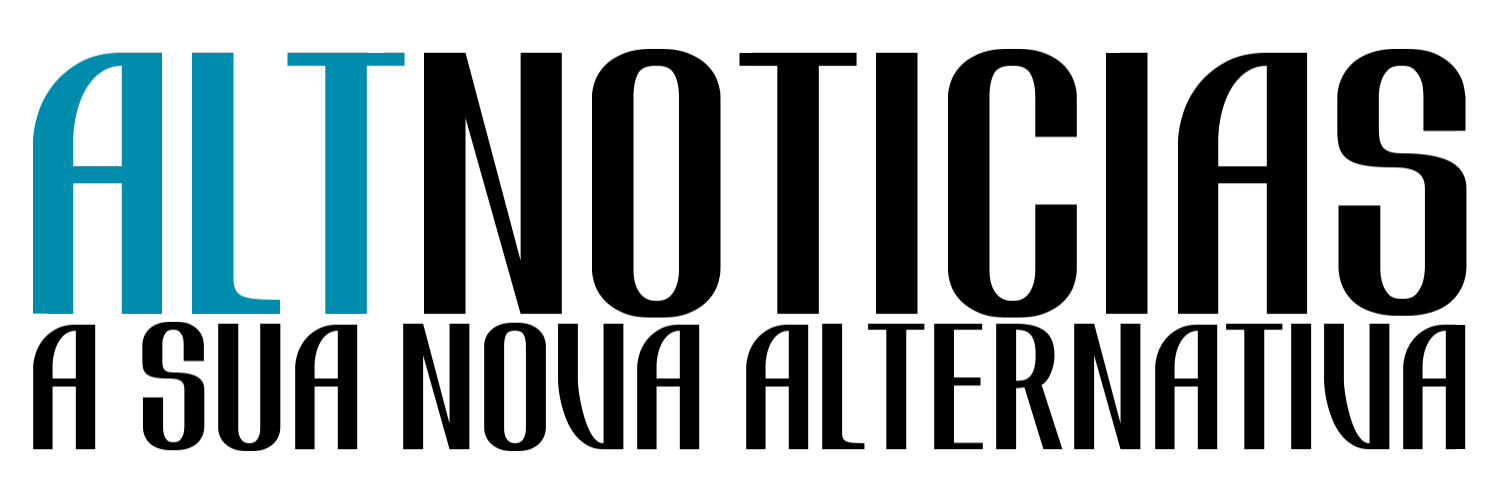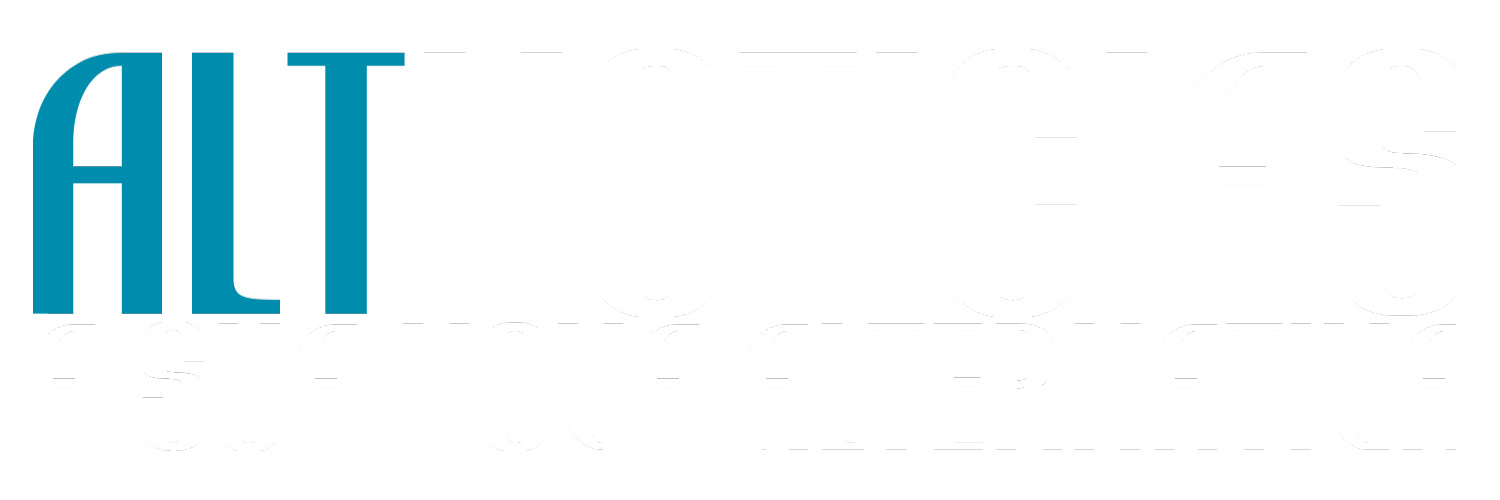De repente, sob um calor de quase 30 graus do páteo no Lourenço Jorge, hospital da zona oeste do Rio de Janeiro, coração da epidemia da dengue, alguém avista um Aedes egypt – enorme, preto, pintado. Como é possível?
“Sabe por que? Porque o equipamento do fumacê pesava muito e o caminhão quebrou. Agora, como não há dinheiro para consertar, nem isso estão fazendo,” explica uma mãe que aguarda o resultado da filha de 12 anos, recém-operada de uma apendicite aguda e que, semanas depois, tem sintomas típicos da dengue.
Ao seu lado, numa roda de mães em busca de socorro para a filharada, a faxineira Ivani Nicolau dos Santos, de 36 anos, aponta para um conjunto de cimento nas proximidades do hospital e pergunta: “não tem dinheiro? E os edifícios do Pan, que estão aí, todos vazios?” Mãe de dois filhos adolescentes, Iraci mora no Largo do Tanque, na Curicica, um dos focos mais ativos da doença. Hoje em dia, a pessoa diz que mora ali e o outro já conclui: “está com dengue.”
No ano passado, a própria Ivani teve dengue hemorrágica, aquela que sangra muito e pode matar. Ela e um dos filhos. Mas não fizeram nada no bairro e o vírus voltou. Os dois meninos ficaram doentes este ano e passaram uma semana internados no Lourenço Jorge. Ontem, Ivani foi até lá para fazer controle.
Outra dona-de-casa, pernas lindas dentro de um shortinho branco, trouxe o filho de 9 anos para fazer exames. O garoto mal consegue andar. Está tão sonolento e tão fraco que a única dúvida é se terá de ser internado ou voltará para casa. O marido já teve duas dengues, uma hemorrágica, “porque trabalha ao lado do Jardim Botânico, onde os grã-finos não querem que se faça vistoria em cima das plantinhas.”
Passei o dia de ontem no Lourenço Jorge, o mesmo onde, no domingo, um pai quebrou a vidraça porque não conseguiu atendimento para o filho. A vidraça já foi consertada. O número de médicos de plantão aumentou, o de enfermeiras também. Mas testemunhei cenas dramáticas e estranhas.
Mais um desconforto
No fim do dia, o funcionário que recebia pacientes no protocolo, em longas filas antes da pessoa preencher a ficha e ser encaminhada para um primeiro atendimento, fechou as portas de seu departamento, foi embora e levou a chave.
Embora fosse possível fazer a ficha em outro lugar – e os recém-chegados tinham de se virar para encontrar a informação – o gesto criou um novo problema e mais um desconforto para quem queria buscar ajuda e às vezes fica tonto só de estar de pé. A explicação é que o funcionário teve um esgotamento depois de trabalhar demais.
O combate à dengue no Rio de Janeiro mostra que há ocasiões em que todo mundo é obrigado a separar o acessório do principal, escolher o que tem importância real e dispensar tantas coisas supérfluas que aparecem na vida.
A dengue mudou o comportamento da população depois que se mostrou capaz de produzir cinco vezes mais mortes do que o tolerável, como disse o ministro da Saúde. (“E o que seria tolerável?,” me pergunta uma executiva paulista na fila da ponte aérea para o Rio de Janeiro).
As pessoas só falam mal do governo quando dá tempo. É mais útil conhecer os hábitos do mosquito — como aparecer à luz do dia e preferir picadas a um metro do chão, no máximo – procurar repelentes e tomar vitamina B.
O número de plaquetas
Também se aprendeu que a informação importante envolve o número de plaquetas do sangue. Quando o teste marca um índice inferior a 140 mil é porque o paciente se encontra numa situação grave. Não são apenas mães que falam de plaquetas. As crianças dali já aprenderam sua importância.
Quando quando alguém sai de um hospital com os exames na mão, as pessoas perguntam “como estão as plaquetas” ou “como está a plaqueta?” com a mesma naturalidade com que, no passado, perguntavam “como estava a praia ontem?” ou “como anda seu filho na escola?”
A sensação de andar pelo Rio de Janeiro equivale a frequentar um filme B de ficção científica, onde, em busca de um pouco de drama, o diretor inventa uma praga mortal e misteriosa, contra a qual os seres humanos nada podem fazer.
Embora a doença não esteja em toda parte, já contaminou as conversas, as preocupações e a imaginação da cidade. Num comportamento raro num País onde o avental branco impõe um respeito histórico na maioria dos ambientes, em 2008 o povo já xingou médicos de grã-finos e chamou doutoras e enfermeiras de prostitutas quando notava a falta de pessoal nos hospitais.
“Algumas médicas ficaram tão ofendidas ao serem chamadas de vagabundas que decidiram não atender o pessoal que estava naquele departamento,” conta uma enfermeira do lugar. “As médicas estão certas. Não precisam ser ofendidas. Mas o povo está errado de brigar? Está no direito dele.”
Na segunda-feira, foi o dia em que soldados da Aeronáutica, Exército e Marinha levantaram tendas de hidratação em vários pontos da cidade. Foi uma espécie de festa cívico-militar. Na terça, comprovou-se que as tendas militares não davam conta. A partir das duas da tarde os pacientes passaram a ser encaminhados para os mesmos hospitas de antes, que continuavam lotados.
300 pedidos de ajuda
Passei o dia no Lourenço Jorge, hospital com 200 leitos, quase todos ocupados pelos pacientes da dengue – que tomaram vagas disponíveis na pediatria, na maternidade e na UTI.
O drama é de é muita gente. Só na terça-feira apareceram 300 adultos em busca de atendimento. Na pediatria, a senha para crianças estava no número 97 às 11h – e esse total iria dobrar ao longo do dia. As máquinas para o teste de plaquetas conseguem terminar o exame em menos de 5 minutos. Mas são apenas duas.
O balanço é que as pessoas levavam uma hora para tirar o sangue – e ficavam três ou quatro na espera. “Não quero pagar pelo erro dos outros,” gritava uma moça de cabelo preso por um lenço, que aguardava o resultado. “Se estiver muito doente preciso saber agora.” De cada 100 pacientes que procuram o Lourenço Jorge, 40 não podem ir para casa sem receber algum tipo de atendimento, nem que seja uma hidratação a base de soro.
Como todo hospital, existem alas mais ou menos lúgubres, reservadas aos pacientes de maior ou menor gravidade. No Lourenço Jorge, o local mais dramático é a entrada da Grande Emergência, onde ficam os pacientes em estado grave, com direito a cuidado permanente. É um local onde as visitas tem um papel colado no peito, que autoriza o ingresso. Cada paciente só pode receber um parente por vez – mas eles podem passar o papel para outra pessoa, se quiserem. A entrada é controlada por uma corrente e um policial na porta.
Com uma poça d”água no rosto, a gerente comercial Ana Margarida Pinho, de 41 anos, viúva do primeiro casamento, queixava-se da sorte de seu segundo marido, Alessandro, dez anos mais novo, que apresentou os primeiros sintomas de dengue no sábado. A situação agravou-se na segunda-feira e ontem tudo parecia muito difícil.
“Me deixaram entrar para uma visita rápida, porque eu ia levar um casaco para ele se aquecer. Meu marido vomitava sangue. Estava com a roupa toda manchada. Ele só me dizia: “me leva embora daqui. Eu não quero morrer.” O pior é que ele não estava nem deitado. Foi colocado numa cadeira.”
Ana Margarida chora, perde a paciência com dois senhores que discutem política a seu lado como se mais nada ocorresse à sua volta.
Uma médica dirá, mais tarde, que o marido da gerente comercial não corre perigo imediato. Em breve irão vagar três leitos na UTI, de pacientes que se recuperam, e ele poderá ir para lá, personagem de uma guerra à uma epidemia que é mais forte do que tudo aquilo que o Estado e a incapacidade dos governantes tem a oferecer, e que todos sabem que não será vencida, apenas irá embora e retornar conforme os desígnios da natureza, dando razão ao grande historiador Fernand Braudel, um dos primeiros a compreender o papel dos vírus e bactérias no atraso de uma civilização.
Firmeza delicada
Com uma garra que só honra o serviço público, cuja qualidade é outra medida da evolução humana, a médica Vilma Lúcia responde pela área de diagnóstico e tratamento no Lourenço Jorge. Não pára minuto e não é pura coreografia. Recolhe exames, encaminha pacientes mais graves, faz visitas, confere números e dá explicações a quem pede. Não tem receio de pedir a um repórter que ajude a empurrar uma paciente que chora numa cadeira de rodas. Passa o dia em pé, conversa enquanto caminha pelo corredor. Mostra uma firmeza delicada na hora de enfrentar aquelas rodinhas periódicas de cidadãos amargurados e ofendidos que se juntam, diversas vezes ao longo do dia, para cobrar, às vezes em voz alta, uma explicação e um resultado que não sái há horas.
“Vamos ter coração, gente. Estamos todos juntos.” A doutora Vilma sabe onde está e até onde pode ir. Ela apresenta o médico que coordena a luta contra a dengue na região. Mas em seguida corrige as apresentações e esclarece: “Não coordenamos nada. Não dá para coordenar. Mas atendemos. Isso estamos fazendo.” O coordenador concorda.
Faltam macas, leitos e até cadeiras, o que determina o tipo de atendimento. O assalariado José Rocha dos Santos, de 26 anos, passou o início da noite de terça-feira com o braço levantado, carregando um saco de soro – para garantir o alimento da sobrinha Ellen (com dois “eles”) Cristina.
Ellen foi atendida e medicada num posto de saúde perto do “Largo do Tanque,” na perigosa Curicica, onde a família mora. Só que o posto fechou às 18h e, como era preciso seguir no tratamento, José Rocha conseguiu que uma ambulância levasse os dois para o Lourenço Jorge.
A comerciante que carregava a filha de 12 anos explica que aquele hospital é bom, “quando você cai com a pessoa certa, que tem vontade de saber o seu problema. Quando trouxe minha filha aqui, disseram que era virose. Depois, que era rotavírus. Uma semana depois, tinha voltado a ser virose de novo. Só aí descobriraram que era hepatite.”
Neste cenário de dor e derrota, todos têm muito medo. Moradora num bairro próximo, Renata da Silva Ferreira, de 11 anos, perdeu um colega de escola na primeira semana de aula – ele foi um dos primeiros mortos da dengue no ano. “Não tive coragem de vacilar no primeiro sinal de cansaço,” diz a mãe, Ana Paula da Silva Ferreira.
Uma babá reclama de seus vizinhos de bairro. Ela passou os últimos 15 dias em visitas regulares ao hospital. Primeiro, foi sua filha de 16 anos que teve dengue. Agora é o filho de 12. Ela passou a última noite sem dormir, olhando o menino tomar soro, incapaz de qualquer alimento por causa do enjôo – e porque tem alergia ao remédio que poderia curar isso.
Ela fala com uma dignidade calma, que impressiona. “O governo poderia ser mais responsável. Poderia ser mais rígido e cobrar que todos os cidadãos limpassem seu quintal. O governo poderia entrar nas casas suspeitas, examinar, cobrar multa. É obrigação. Se algumas pessoas não ligam para sua vida eu ligo para a minha.”
Muitos pacientes reclamam dos médicos, dizem que gostaria de ser melhor atendidos. “Eu só queria colocar um avental branco e ensinar a eles que fossem mais humanos, prestassem mais atenção na gente”, diz Ivani Nicolau dos Santos, a mãe cujos filhos já estão entrando na segunda dengue cada um.
Mas há médicos que reclamam dos pacientes. Um residente da UTI me diz: “muita gente poderia ter vindo mais cedo, assim que sentiu os sintomas da dengue. Mas só apareceu no hospital depois da Páscoa, porque não queria estragar o feriado. Também tem os oportunistas. Eles vem aqui mesmo sabendo que não tem nada. Pegam uma dispensa no serviço e vão para casa. Não é um ou dois. É mais do que você está pensando. Ganham um dia de folga.”
Acompanhei pelo menos um caso de alarme falso. Um cidadão de voz grossa e bonezinho mostrava-se deliciado quando dava entrevistas aos jornais e a TV. Passou a tarde nessa atividade até que o resultado do exame de sua namorada mostrou que ela podia até estar doente – mas não era dengue.
Apesar da carência e das dificuldades, ouvi muitas pessoas que enxergam o hospital como uma conquista daquela comunidade. “Minha avó, que tem um problema no coração, está aqui há vários dias. Tem sido bem tratada e alimentada, recebe os remédios que precisa. Tenho um amigo que foi num hospital privado e teve de pagar 150 reais só para medir a pressão e receber receita de remédio,” diz Barbara Talita Gomes, de 24 anos, dona de um salão de beleza no Curicica.
Ciente de que ali os casos surgem em ruas, casas, pontos de encontro, ela diz: “de vez em quando uma cliente some e eu já sei: está com dengue.”