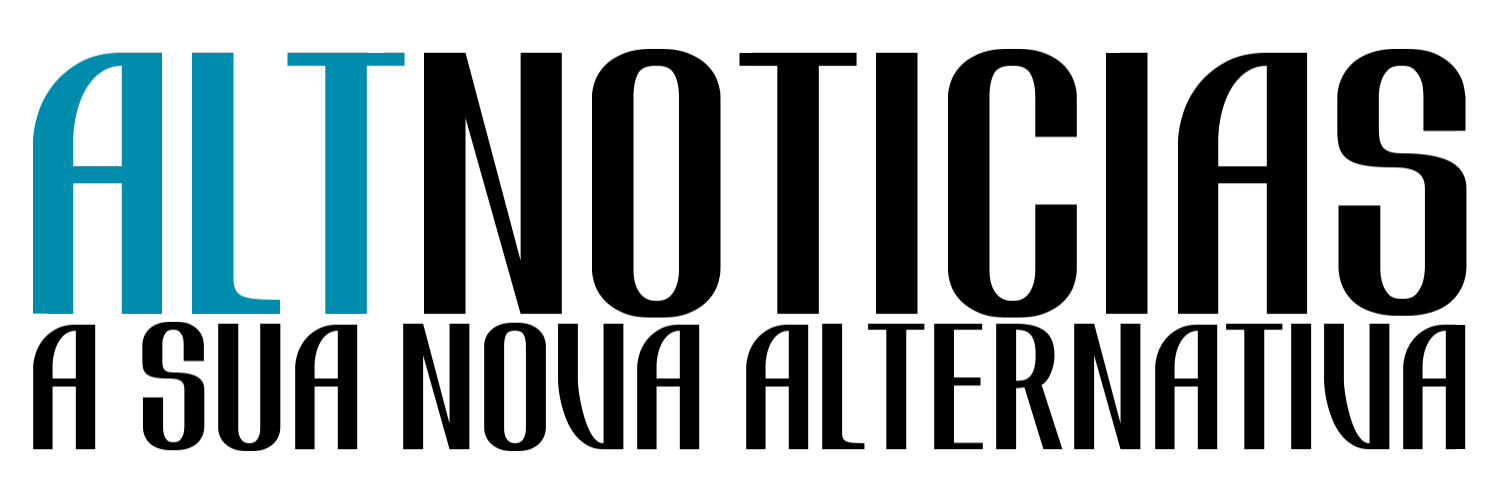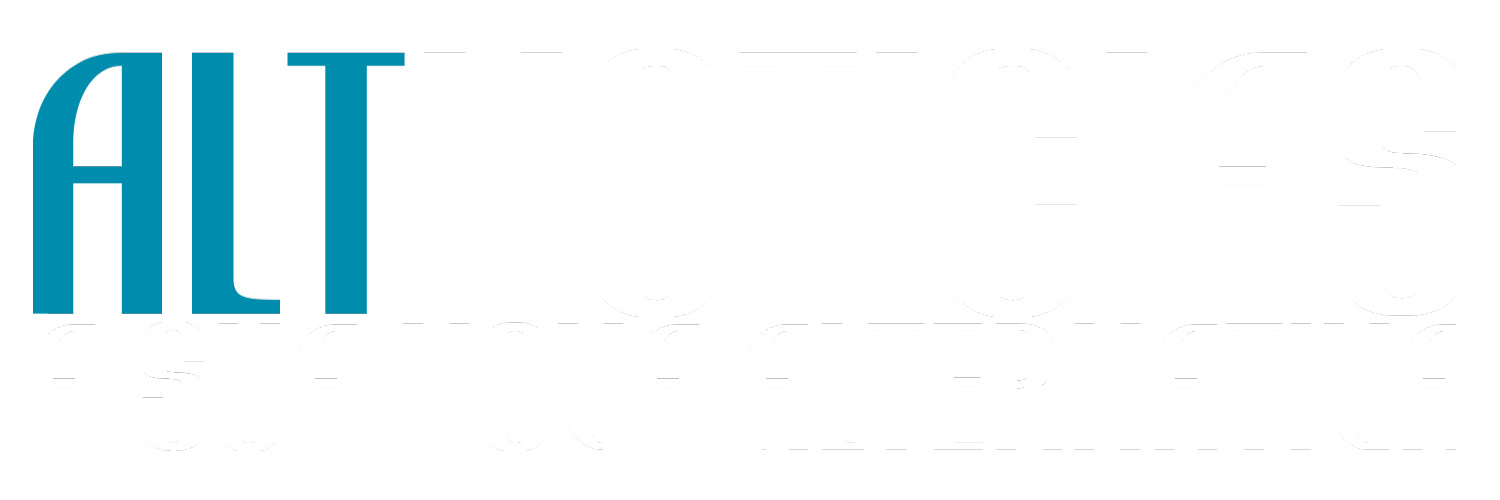Cada vez mais se torna comum a expressão qualidade do ensino aplicada ao campo da educação. No discurso dominante no Brasil, assim como em outras partes do mundo, aborda-se a noção de qualidade como se todos tivessem o mesmo entendimento a respeito do termo.
O conceito de qualidade acabou sendo, nos últimos anos, uma espécie de paradigma que divide as escolas em dois grupos: as boas e as ruins. Vinculadas a esse julgamento de senso comum, aparecem os projetos de premiação e de castigo para escolas ou para o seu corpo docente – uma meritocracia enviesada calcada na idéia de produtividade empresarial.
Um dos efeitos perversos dessa avaliação estatal, feita em larga escala, é o de que o professorado acaba perdendo o controle sobre os processos educativos, “delegando” esta função ao controlador maior e distante que é o Estado. Perdidos no emaranhado discursivo das avaliações, os professores não percebem o processo de alheamento do magistério no controle do ensino. Deixa de ser sujeito do rico processo educativo para se transformar numa simples peça de uma engrenagem voltada para responder aos exames de avaliação, formulados à distância da realidade escolar.
Os processos de ensino, as avaliações, o controle do processo de desenvolvimento dos alunos deveriam ser tarefas inalienáveis do magistério. No entanto, utilizando das regras da produtividade empresarial e do controle à distância, o Estado avaliador acaba por secundarizar a função do professor. No limite, ele é apenas um funcionário estatal que trabalha para que os seus alunos respondam às questões formuladas pelos gestores do Estado Maior da educação.
Por outro lado, como referências para julgar, avaliar os resultados do ensino, o Estado não distingue as duas redes: pública e privada. Nessa lógica, a escola pública está se tornando subsidiária da rede privada. E aí surge um rotundo equívoco, pois, quando tratamos de escolas públicas, estamos falando que ensino de qualidade é um direito de cidadania, direito de uma sociedade que financia o Estado, estamos afirmando que o saber produzido na história da humanidade é um direito universal; quando tratamos de escola privada, estamos trabalhando com clientes. Esses procuram no “mercado do ensino” – a expressão é dura, mas o que fazer? – aquele tipo de escola que lhes oferece algo mais interessante. Ainda que paguem duas vezes pela educação – pois também financiam a escola pública – a lógica do cliente educacional é a relação custo benefício e um provável sucesso profissional.
O Estado precisa, imediatamente, rever a forma de julgar coisas diferentes com o mesmo critério. Os pais das escolas particulares de Cuiabá, por exemplo, no Ensino Médio, investem em média algo em torno de R$ 7.000,00 por aluno/ano; os alunos das escolas públicas recebem do Fundeb R$ 2.519,83 por ano. Ainda que não se considerem outros determinantes, basta o diferencial de investimento para se saber que algo está errado na padronização da avaliação. Se o Estado brasileiro deseja usar as boas escolas da rede privada como referência na construção das matrizes do Enem, por exemplo, precisa triplicar os investimentos na rede pública.
Por sua vez, os professores devem lutar para não perder algo que é inerente à profissão docente: o controle dos processos de ensino e aprendizagem, além da responsabilidade pelos sucessos e pelos fracassos da escola pública. Sem isso, a docência perde o seu sentido. Como professor, eu quero ser responsabilizado pela aprendizagem dos meus alunos, e exijo a liberdade de controlar o processo educativo. As avaliações do Estado, em larga escala, devem ser feitas, mas não podem prescindir das minhas avaliações – este deveria ser o grito de todo o magistério.
Esses dois pontos – o financiamento das duas redes e a responsabilidade dos professores – me parecem ser um bom ponto de partida para se discutir o conceito de qualidade, equivocadamente considerado como consensual, assim como, colocar no seu devido lugar a função do Estado avaliador e controlador da educação.
Antonio Carlos Maximo
(*) Doutor em educação e professor da UFMT.