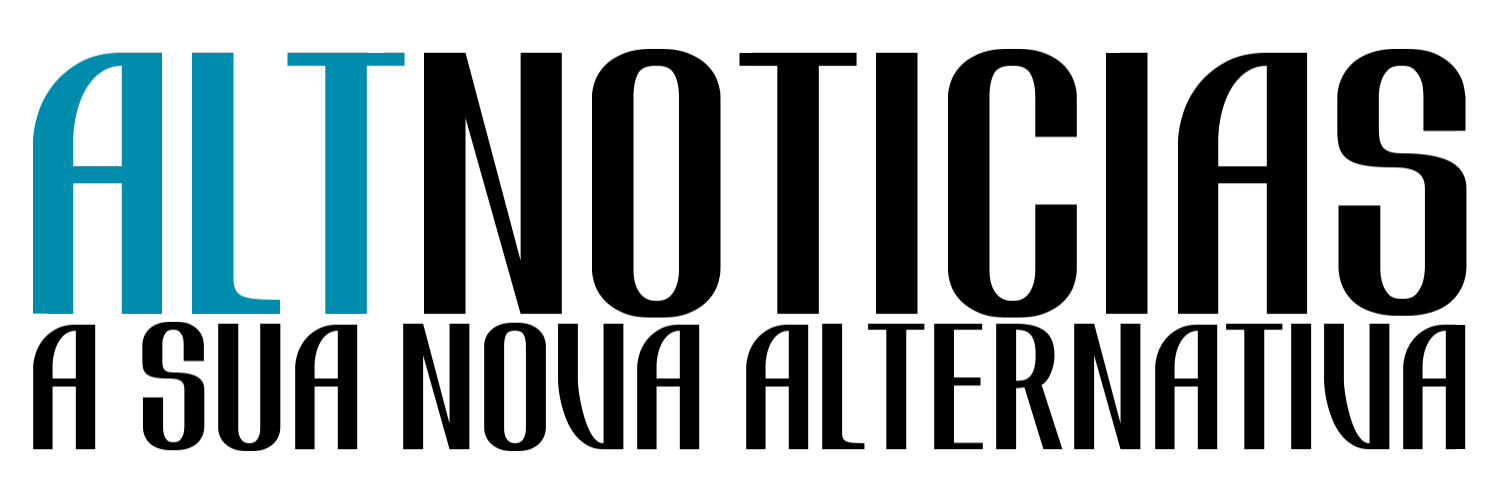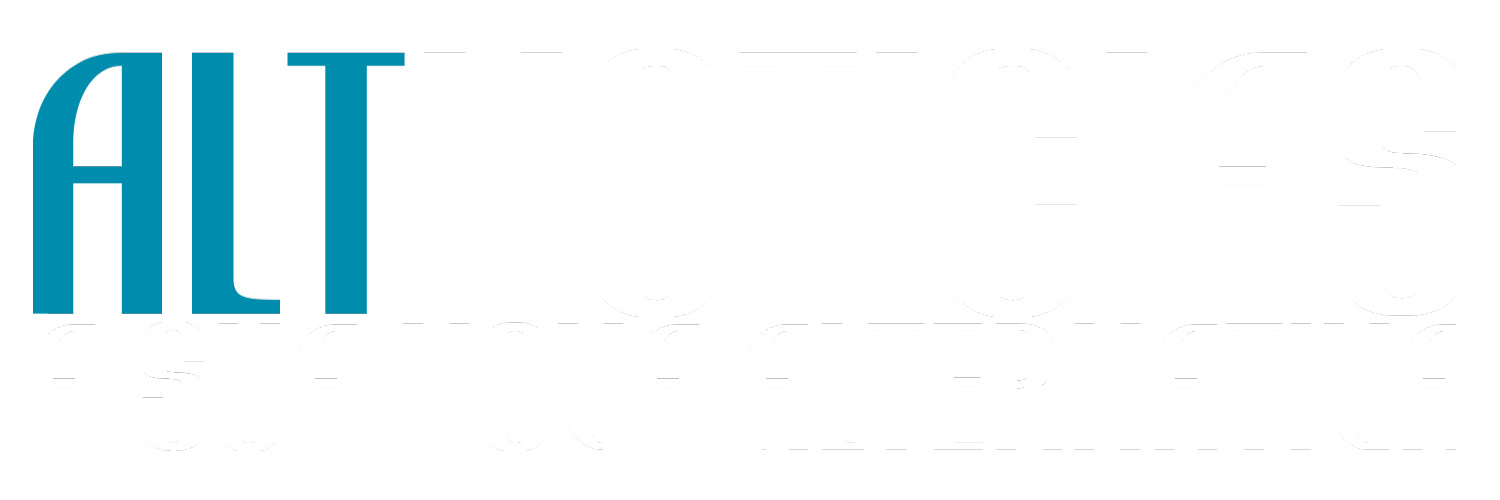“Vi muitas meninas sangrar”, ela diz assim em voz baixa, enquanto as sandálias varrem como um pêndulo a terra vermelha do pátio e os perus caminham nas pontas dos pés em volta de um cabrito preguiçoso. Fala devagar e sem nenhum reforço das mãos. Sem teatro. Lala Camara é uma profissional da ablação. Uma executora precisa mas desapaixonada dessa prática que consiste em “despojar as mulheres de sua sexualidade”, segundo a definição da ativista senegalesa Khady Koita.
Camara tem 54 anos e vive em Baliga, uma pequena comunidade woloff (etnia majoritária no Senegal) de 1.300 habitantes e rodeada de baobás nodosos. Cobrava 6 euros por mutilação. “Um preço justo”, indica, já que também se encarregava da manutenção das meninas, entre 13 e 17 anos, durante a semana que durava a convalescença.
Não se limitava a lhes extirpar o clitóris com uma navalha; também selava os lábios da vagina com espinhos de acácia. Depois, quando a menina se casava – em geral depois de um pacto de conveniência entre os pais -, se encarregava de “desabrochar” a vulva.
Camara nunca tocou suas próprias filhas. Não achou boa idéia. Conhecia bem o processo: “Sai muito sangue; é ruim”. Mas também jamais se fez qualquer consideração moral: “É uma tradição e uma maneira de ganhar a vida. Alguém tinha de fazer isso”. Seu povoado, por insistência da ONG Tostan, abandonou essa prática em 1999. Lala enterrou suas navalhas na terra vermelha dos campos de cultivo de milho e espinafre e mudou de negócio: “Agora me dedico a vender água”.
Usa um vestido de bolas azuis sobre um fundo branco e a cabeça coberta com um pedaço do mesmo pano. Fala no pátio de sua casa, uma minúscula construção de barro com um colchão atravessado perto da porta. “Fiz mais de cem ablações durante os 42 anos de profissão”, confessa, enquanto as meninas pequenas correm ao seu redor. “Os pais decidiam e não havia mais o que falar”, conclui.
Uma tese que Koita, artífice da ONG Palavra, desmente parcialmente: “As mulheres são as que as fazem, e muitas vezes as que insistem nisso. Em geral são as mulheres que transmitem e cuidam das tradições”. Camara não é exceção. Das 5 mil comunidades, leia-se aldeias, do Senegal, cerca de 2 mil repudiaram explicitamente a “incisão”. Paradoxalmente, as grandes cidades como Dacar, a capital, são as que mais resistem à mudança de costumes.
O mesmo vale para os imigrantes que vivem na Europa. Um dos líderes locais da oposição à ablação revela que cada vez que um dos “europeus” volta a seu povoado provoca uma involução. A questão é que o imigrante, afastado de suas referências locais, resiste a abandonar as tradições porque isso lhe causa mais estranhamento. Por sua vez, como aqueles que cruzaram o Mediterrâneo e se estabeleceram em países como a Espanha têm muito prestígio em suas localidades de origem, sua atitude provoca dúvidas nos habitantes da aldeia.
Khady Koita tinha 13 anos quando atravessou o mar. Abandonou Thies, barracos de lata e casas semiconstruídas em uma estrada estreita encharcada que se perde no horizonte, para viver na França. Deixou para trás uma infância “muito feliz”. Mas também uma parte de seu corpo. Hoje tem mais de 50 anos, uma ONG em expansão, muitos prêmios de cooperação e um livro. Escreveu “Mutilada” em 2005. Um título suficientemente explícito sobre seu conteúdo: “Duas mulheres me agarraram e me arrastaram até o quarto. Uma atrás de mim segura minha cabeça e seus joelhos achatam meus ombros com todo o seu peso para que eu não me mexa; a outra me segura no colo com as pernas abertas; meu coração começa a palpitar com muita força”.
Para combater essa chaga, Koita assinou na terça-feira um convênio de colaboração com a Comunidade de Madri (dentro das atividades previstas na viagem que realizam pela África cem adolescentes madrilenhos no programa “Madri Rumo ao Sul”, no qual conhecem in loco os projetos de cooperação e ONGs que trabalham nos países africanos que visitam durante um mês). Recebeu 85 mil euros de Carlos Clemente, vice-conselheiro da Imigração, e depositou a primeira pedra de um centro de formação para meninos e meninas nos arredores de Thies – a segunda cidade mais populosa do Senegal, com 350 mil habitantes. Clemente acrescentou que a comunidade não subvencionaria “nenhum governo da África corrupto”.
Antes, em um auditório composto pelos cem adolescentes da caravana Rumo ao Sul, que viajam com a Comunidade de Madri, Koita explicou suas teorias sobre o subdesenvolvimento na África em geral e no Senegal em particular. A poucos metros, uma senhora caminhava com uma cabrita que segurava com a mão como se fosse um menino pequeno, e as crianças brincavam com velhas rodas de carroça.
A ONG Palavra, fundada por Koita, afirma que a única forma de conscientizar as pequenas comunidades é com um “diálogo diplomático”, sem conotações morais que sugiram superioridade cultural dos europeus e “com muita paciência, insistindo nos temas de higiene e saúde”.
“Não digo às pessoas o que devem fazer; começo uma conversa com elas de vários dias. Não digo diretamente “Você não deve mutilar sua filha””, explica. Embora Koita não tenha nenhum tipo de ambigüidade e indique que seu objetivo final é formar “cidadãos iguais, cidadãos inteiros”.
Segundo a ativista, o debate já se instalou no Senegal. Os jovens discutem acaloradamente a propriedade ou não dessa prática que se estende por toda a África. Os partidários se apóiam no seguinte argumento: “Uma mulher sem desejo sexual é mais pura e mais limpa, e a única chave para isso é lhe tirar o clitóris”. Essa é a tese que defende uma roliça mãe de sete filhos vestida de laranja, enquanto mostra o forno de barro de sua cozinha, uma peça separada em forma de choça e paredes de barro. “Os costumes têm sua razão”, afirma, apesar de admitir os riscos para a saúde.
Alguns problemas de saúde que a especialista Lala Camara, com 42 anos de ofício nas costas, admite. Mas afirma que nunca morreu uma das “suas meninas”: “Só ficavam doentes, mas não morriam”.
Tradução: Luiz Roberto Mendes Gonçalves
Daniel Borasteros
Em Baliga, Senegal
Visite o site do El País